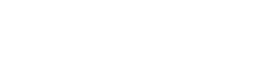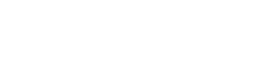Questões de Português - Gramática - Figuras de Linguagem - Metonímia
Para responder às questão, leia a crônica “Bandidos”, de Luis Fernando Verissimo.
Nos filmes e histórias em quadrinhos da nossa infância recebíamos uma lição da qual só agora me dou conta. Não era a que o Bem sempre vence o Mal, embora o herói sempre vencesse o bandido. Quem dava a lição era o bandido, e era esta: a morte precisa de uma certa solenidade.
A vitória do herói sobre o bandido era banalizada pela repetição. Para o mocinho, matar era uma coisa corriqueira, uma decorrência da sua virtude. Já o bandido era torturado pela ideia da morte, pela sua própria vilania, pelo terrível poder que cada um tem de acabar com a vida de outro. O bandido era incapaz de simplesmente matar alguém, ou matar alguém simplesmente. Para ele o ato de matar precisava ser lento, trabalhado, ornamentado, erguido acima da sua inaceitável vulgaridade — enfim, tão valorizado que dava ao herói tempo de escapar e ainda salvar a mocinha. Pois a verdade é que nenhum herói teria sobrevivido à sua primeira aventura se não fosse esta compulsão do vilão de fazer da morte uma arte demorada, um processo com preâmbulo e apoteose, e significado. Nunca entendi por que o bandido não dava logo um tiro na testa do herói quando o tinha em seu poder, em vez de deixá-lo suspenso sobre o poço dos jacarés por uma corda besuntada que os ratos roeriam pouco a pouco, enquanto o gramofone1 tocava Wagner2 . Hoje sei que o vilão queria dar tempo, ao mocinho e à plateia, de refletir sobre a finitude e a perversidade humanas.
Os vilões do meu tempo de matinês eram invariavelmente “gênios do Mal”, paródias de intelectuais e cientistas cujas maquinações eram frustradas pelo prático mocinho. A imaginação perdia para a ação porque a imaginação, como a hesitação, é a ação retardada, a ação precedida do pensamento, do pavor ou, no caso do bandido, da volúpia do significado. O Mal era inteligência demais, era a obsessão com a morte, enquanto o Bem — o que ficava com a mocinha — era o que não pensava na morte. Quando recapturava o mocinho, mesmo sabendo que ele escapara da morte tão cuidadosamente orquestrada com os ratos e os jacarés, o bandido ainda não lhe dava o rápido e definitivo tiro na testa, para ele aprender. Deixava-o amarrado sobre uma tábua que lentamente, solenemente, se aproximava de uma serra circular, da qual o herói obviamente escaparia de novo. E, se pegasse o mocinho pela terceira vez, nem assim o bandido abandonaria sua missão didática. Sucumbiria à sua outra compulsão fatal, a de falar demais. Mesmo o tiro na testa precisava de uma frase antes, uma explicação, um jogo de palavras. Geralmente era o que dava tempo para a chegada da polícia e a prisão do vilão, derrotado pela literatura.
Pobres vilões. E nós, inconscientemente, torcíamos pelos burros.
(Luis Fernando Verissimo. O suicida e o computador, 1992.)
1 gramofone: antigo toca-discos.
2 Wagner: Richard Wagner, compositor alemão do século XIX.
Verifica-se a ocorrência da figura de linguagem conhecida como metonímia em:
A questão tomam como referência a seguinte charge:

Sobre a construção dos sentidos na charge, é correto o que se afirma na alternativa:
As mulheres de Tony pertencem a diferentes grupos étnicos: Rami é ronga; Ju é changana; Lu é sena; Saly é maconde; Mauá é macua.
Em relação a essa diversidade, na representação cultural de Moçambique, cada uma dessas mulheres pode ser compreendida pela seguinte figura de linguagem:

A estrutura linguística desse haicai traz o emprego de uma linguagem predominantemente
Leia a tirinha a seguir para responder à questão.

A tira lida provoca o humor e a quebra da expectativa pelo fato de que um dos personagens utiliza-se de uma fala em linguagem literária, apesar de não saber traduzi-la, demonstrando que não entende bem aquilo que ele mesmo diz.
Para provocar esse efeito irônico, o autor da tira, na segunda cena, construiu a figura de linguagem
Leia o trecho de livro reproduzido a seguir para responder à próxima questão.
“Atchin!… Atchin!…”: essa era a manchete irônica estampada no jornal O Combate, no início do mês de julho de 1918. A notícia referia-se a um estranho surto de gripe que havia paralisado o esforço de guerra na Alemanha. O moral da população andava baixo, e a doença atingia tanto a economia como a capacidade de mobilização da sociedade. Publicado em São Paulo, na forma de tabloide, o periódico fazia parte da imprensa de filiação anarquista e tinha um claro propósito: convencer o maior número possível de brasileiros de que a Grande Guerra, que se arrastava desde 1914 e continuava firme entrado o ano de 1918, era um embate insano.
SCHWARCZ, L.M. e STARLING, H.M. A bailarina da morte: a gripe espanhola no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2020, p. 11.
O texto mostra que, para cumprir seu propósito discursivo, mantendo a linha editorial e aproximando-se do público leitor, o periódico lançou mão de uma
Faça seu login GRÁTIS
Minhas Estatísticas Completas
Estude o conteúdo com a Duda
Estude com a Duda
Selecione um conteúdo para aprender mais: