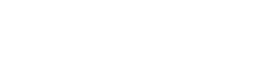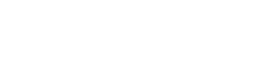Questões de Português - Gramática - Sintaxe - Verbo de Ligação
Poema I
Dois e dois são quatro
[1] Como dois e dois são quatro
Sei que a vida vale a pena
Embora o pão seja caro
[4] E a liberdade, pequena
Como teus olhos são claros
E a tua pele, morena
[7] Como é azul o oceano
E a lagoa, serena
Como um tempo de alegria
[10] Por trás do terror me acena
E a noite carrega o dia
No seu colo de açucena
[13] — sei que dois e dois são quatro
sei que a vida vale a pena
mesmo que o pão seja caro
[16] e a liberdade, pequena.
Ferreira Gullar. Toda poesia. Rio de Janeiro: José Olympio, 2000.
Poema II
Neologismo
[1] Beijo pouco, falo menos ainda.
Mas invento palavras
Que traduzem a ternura mais funda
[4] E mais cotidiana.
Inventei, por exemplo, o verbo teadorar.
Intransitivo:
[7] Teadoro, Teodora
Manuel Bandeira. Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994.
Considerando os aspectos estruturais e os sentidos produzidos nos poemas acima, julgue o item que se segue.
Nos versos 4, 6 e 8 do poema I, o emprego da vírgula sinaliza a elipse do verbo de ligação.
TEXTO
A cobertura de gelo da Terra está encolhendo
[135] A camada de gelo que cobre a Terra
diminuiu, em média, 87 mil quilômetros
quadrados (km2) por ano, de 1979 a 2016,
possivelmente em decorrência das mudanças
climáticas. A redução anual foi equivalente à
[140] da área do lago Superior, na fronteira entre o
Canadá e os Estados Unidos. A estimativa
resulta de análises da equipe do físico e
geógrafo Xiaoqing Peng, da Universidade de
Lanzhou, na China. O encolhimento ocorreu
[145] principalmente no Hemisfério Norte. A
cobertura de gelo na região registrou uma
perda anual média de 102 mil km2
. Essa
diminuição foi ligeiramente compensada pelo
aumento de 14 mil km2 por ano na camada
[150] de gelo do Hemisfério Sul no mesmo período
(Earth’s Future, 16 de maio). Essa expansão
se deu principalmente no gelo marinho no
mar de Ross, ao redor da Antártica, devido a
alterações no padrão de vento e correntes
[155] oceânicas. A cobertura de gelo da Terra é
importante porque reflete a luz do Sol,
ajudando a resfriar o planeta.
REVISTA PESQUISA FAPESP - AGOSTO DE 2021 | ANO 22, N. 306. Captado de https://revistapesquisa.fapesp.br/acobertura-de-gelo-da-terra-esta-encolhendo. Acesso em 16 de agosto de 2021. (Texto adaptado.)
Atente para a relação dos termos em destaque, nos trechos a seguir, com a classificação apresentada:
I. “A camada de gelo que cobre a Terra diminuiu, em média, 87 mil quilômetros quadrados (km2) por ano de 1979 a 2016” (linhas 135-137) — VERBO TRANSITIVO INDIRETO
II. “A estimativa resulta de análises da equipe do físico e geógrafo Xiaoqing Peng” (linhas 141-143) — VERBO INTRANSITIVO
III. “Essa diminuição foi ligeiramente compensada pelo aumento de 14 mil km2 por ano na camada de gelo do Hemisfério Sul no mesmo período” (linhas 147-150) — VERBO DE LIGAÇÃO
IV. “A cobertura de gelo da Terra é importante porque reflete a luz do Sol” (linhas 155-156) — VERBO DE LIGAÇÃO
Está correto o que consta nos itens
Leia o poema a seguir.
Simultaneidade
- Eu amo o mundo! Eu detesto o mundo!
Eu creio em Deus! Deus é um absurdo!
Eu vou me matar! Eu quero viver!
- Você é louco?
- Não, sou poeta.
QUINTANA, Mário. A corda invisível. São Paulo: Globo, 1998.
Verbo de ligação é aquele que age como elemento de ligação entre sujeito e seu atributo. No poema lido, aparecem alguns verbos de ligação.
Assinale a alternativa que apresenta dois deles.
Leia o texto a seguir e responda a QUESTÃO.
Opinião não é argumento
Aqui está uma história que pode ser verdadeira no contexto atual do Brasil. Um jovem professor de Filosofia, instruindo seus alunos à Filosofia da Religião, introduz, à maneira que a Filosofia opera há séculos, argumentos favoráveis e contrários à existência de Deus. Um dos alunos se queixa, para o diretor e também nas onipresentes redes sociais, de que suas crenças religiosas estão sendo atacadas. “Eu tenho direito às minhas crenças”. O diretor concorda com o aluno e força o professor a desistir de ensinar Filosofia da Religião.
Mas o que é exatamente um “direito às minhas crenças”? [...] O direito à crença, nesse caso, poderia ser visto como o “direito evidencial”. Alguém tem um direito evidencial à sua crença se estiver disposto a fornecer evidências apropriadas em apoio a ela. Mas o que o estudante e o diretor estão reivindicando e promovendo não parece ser esse direito, pois isso implicaria precisamente a necessidade de pôr as evidencias à prova.
Parece que o estudante está reivindicando outra coisa, um certo “direito moral” à sua crença, como avaliado pelo filósofo americano Joel Feinberg, que trabalhou temas da Ética, Teoria da Ação e Filosofia Política. O estudante está afirmando que tem o direito moral de acreditar no que quiser, mesmo em crenças falsas.
Muitas pessoas acham que, se têm um direito moral a uma crença, todo mundo tem o dever de não as privar dessa crença, o que envolve não criticá-la, não mostrar que é ilógica ou que lhe falta apoio evidencial. O problema é que essa é uma maneira cada vez mais comum de pensar sobre o direito de acreditar. E as grandes perdedoras são a liberdade de expressão e a democracia.
[...] A defesa de uma crença está restrita ao uso de métodos que pertence ao espaço das razões – argumentação e persuasão, em vez de força. Você tem o direito de avançar sua crença na arena pública usando os mesmos métodos de que seus oponentes dispõem para dissuadi-lo.
O pior acontece quando crenças se materializam em opinião, e são usadas como substitutas de argumentos, quando o “Eu tenho direito às minhas crenças” se transforma em “Eu tenho direito à minha opinião”. Crenças e opiniões não são argumentos. Mais precisamente, crenças diferem de opinião, que diferem de fatos, que diferem de argumentos. Um fato é algo que pode ser comprovado verdadeiro. Por exemplo, é um fato que Júpiter é o maior planeta do sistema solar tanto em diâmetro quanto em massa. Esse fato pode ser provado pela observação ou pela consulta a uma fonte fidedigna.
Uma crença é uma ideia ou convicção que alguém aceita como verdade, como “passar debaixo de uma escada dá azar”. Isso certamente não pode ser provado (ou pelo menos nunca foi). Mas a pessoa ainda pode manter sua crença, como vimos, se não pelo “direito evidencial”, apelando para o “direito moral”. Ou ainda, pelo mesmo “direito moral”, deixar de acreditar no que ela própria pensa ser evidência, como no caso do famoso dito (atribuído a Sancho Pança): “Não creio em bruxas, ainda que existam”. [...]
Fonte: CARNIELLI, Walter. Página Aberta. In: Revista Veja. Edição 2578, ano 51, nº 16. São Paulo: Editora Abril, 2018, p. 64 (fragmento adaptado).
Em relação aos verbos de ligação, analise as afirmativas.
I. Em: “Crenças e opiniões não são argumentos”, o verbo destacado sugere, predominantemente, um aspecto de aparência de estado.
II. Em: “Jupiter é o maior planeta do sistema solar”, o verbo destacado sugere, predominantemente, um estado permanente.
III. Em: “Crenças é uma ideia ou convicção que alguém aceita como verdade [...]”, o verbo destacado sugere, predominantemente, um aspecto permanente.
Assinale a alternativa CORRETA.
Leia o trecho do conto “O fígado indiscreto”, de Monteiro Lobato, para responder a questão.
Que há um Deus para o namoro e outro para os bêbados está provado. Sem eles, como explicar tanto passo falso sem tombo, tanto tombo sem nariz partido, tanta beijoca lambiscada a medo sem maiores consequências afora uns sobressaltos desagradáveis, quando passos inoportunos põem termo a duos de sofá em sala momentaneamente deserta?
a duos de sofá em sala momentaneamente deserta? Acontece, todavia, que esses deuses, ao jeito dos de Homero, também cochilam: e o borracho parte o nariz de encontro ao lampião, ou a futura sogra lá apanha Romeu e Julieta em flagrante contato de mucosas petrificando-os com o clássico: “Que pouca-vergonha!…”.
Outras vezes acontece aos protegidos decaírem da graça divina.
Foi o que sucedeu a Inácio, o calouro, e isso lhe estragou o casamento com a Sinharinha Lemos, boa menina a quem cinquenta contos de dote faziam ótima.
Inácio era o rei dos acanhados. Pelas coisas mínimas avermelhava, saía fora de si e permanecia largo tempo idiotizado.
O progresso do seu namoro foi, como era natural, menos obra sua que da menina, e da família de ambos, tacitamente concertadas numa conspiração contra o celibato do futuro bacharel. Uma das manobras constou do convite que ele recebeu para jantar nos Lemos, em certo dia de aniversário familiar comemorado a peru.
(Cidades mortas, 2007. Adaptado.)
“Inácio era o rei dos acanhados. Pelas coisas mínimas avermelhava, saía fora de si e permanecia largo tempo idiotizado.” (5º parágrafo)
No contexto em que está inserido, o termo em destaque é um verbo
Leia o trecho do conto “O fígado indiscreto”, de Monteiro Lobato, para responder à questão.
Que há um Deus para o namoro e outro para os bêbados está provado. Sem eles, como explicar tanto passo falso sem tombo, tanto tombo sem nariz partido, tanta beijoca lambiscada a medo sem maiores consequências afora uns sobressaltos desagradáveis, quando passos inoportunos põem termo a duos de sofá em sala momentaneamente deserta?
Acontece, todavia, que esses deuses, ao jeito dos de Homero, também cochilam: e o borracho parte o nariz de encontro ao lampião, ou a futura sogra lá apanha Romeu e Julieta em flagrante contato de mucosas petrificando-os com o clássico: “Que pouca-vergonha!…”.
Outras vezes acontece aos protegidos decaírem da graça divina.
Foi o que sucedeu a Inácio, o calouro, e isso lhe estragou o casamento com a Sinharinha Lemos, boa menina a quem cinquenta contos de dote faziam ótima.
Inácio era o rei dos acanhados. Pelas coisas mínimas avermelhava, saía fora de si e permanecia largo tempo idiotizado.
O progresso do seu namoro foi, como era natural, menos obra sua que da menina, e da família de ambos, tacitamente concertadas numa conspiração contra o celibato do futuro bacharel. Uma das manobras constou do convite que ele recebeu para jantar nos Lemos, em certo dia de aniversário familiar comemorado a peru.
(Cidades mortas, 2007. Adaptado.)
“Inácio era o rei dos acanhados. Pelas coisas mínimas avermelhava, saía fora de si e permanecia largo tempo idiotizado.” (5o parágrafo)
No contexto em que está inserido, o termo em destaque é um verbo
Faça seu login GRÁTIS
Minhas Estatísticas Completas
Estude o conteúdo com a Duda
Estude com a Duda
Selecione um conteúdo para aprender mais: