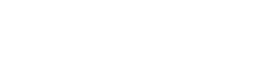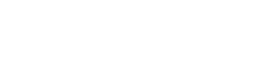Questões de Português - Gramática - Sintaxe - Complemento nominal
A DIFERENÇA ENTRE SER CUTUCADO E ACARICIADO
Uma das sequências de descobertas mais bonitas da neurociência é que o toque não é uma coisa só. Temos o
sentido que “serve” para saber onde algo encosta no corpo, sim, e que formato tem. Este é o tato, um sentido
espacial, que permite ao cérebro casar a representação do que vemos e ouvimos ao nosso redor com o que
encosta em nosso corpo. O sentido do tato é bastante preciso, e causa alerta, sobretudo quando inesperado:
[5] um cutucão no ombro produz movimento da cabeça naquela direção, fato explorado por brincalhões e
ladrões variados.
Mas há o outro sentido de toque da pele, sem qualquer poder de discriminação espacial, inútil para
representarmos o que nos toca, mas poderoso em seu resultado: sensação de conforto e prazer, quando
o toque vem com a sensação de controle de ser desejado, causado por alguém que aceitamos em nosso
[10] espaço social. Este é o toque social, a melhor indicação de que não estamos sozinhos no mundo, que explica
a preferência de bebês-macacos por “mães” macias e quentinhas à “mães” de metal duro e frio providas de
mamadeiras, na falta da própria mãe, e também o efeito poderoso sobre o recém-nascido de ser acariciado
por pele humana. O toque social, com uma certa pressão e sempre algum movimento – nem rápido
demais, nem lento demais – ativa circuitos no cérebro que acalmam corpo e alma, e, nas crianças, propicia
[15] o crescimento.
Uma equipe de pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Washington, em Saint Louis, nos
EUA, mostrou recentemente na revista Science que o toque social é mediado por uma classe particular de
neurônios sensoriais, situados em gânglios ao longo da medula espinhal de camundongos, e conectados a
outros dentro da medula.
[20] Usando técnicas genéticas que permitem a identificação, visualização, ativação e mesmo ablação de
neurônios específicas em camundongos, os pesquisadores demonstraram que os neurônios responsáveis
pelo toque social são uma população de neurônios sensoriais que produzem o peptídeo procineticina, e
neurônios medulares que produzem o receptor sensível à procineticina.
Os neurônios que produzem e respondem à procineticina são fundamentais às várias alterações de
[25] comportamento que se seguem quando animais previamente mantidos em isolamento, o que deixa até
camundongos ávidos por contato social, tem a oportunidade de ser gentilmente pincelados quando estão
em uma, mas não em outra, câmara de uma gaiola: eles passam a ficar mais e mais naquela câmara, onde as
pinceladas reduzem sua frequência cardíaca e os acalmam.
O toque social parece ser também um poderoso mediador de interações entre camundongos. Animais
[30] normais investem boa parte do seu tempo lambendo e acariciando uns aos outros – mas animais
desprovidos de procineticina ou seu receptor, e portanto insensível ao tato social, não participam mais em
sessões de limpeza social. É bem possível que esta seja mais uma causa de variação no espectro autista: sem
procineticina, carícias, ainda que bem intencionadas, são percebidas apenas como mais um cutucão.
Suzana Herculano-Houzel. Folha de São Paulo, 17/05/2022.
Use a oração a seguir para responder a questão:
Usando técnicas genéticas que permitem a identificação, visualização, ativação
e mesmo ablação de neurônios específicas em camundongos (l. 20-21)
Transformando a oração acima em uma expressão nominal, o trecho passa a ser introduzido por:
Para responder a questão, baseie-se no texto abaixo.
Os anos seguintes à proclamação da Independência, em 7 de setembro de 1822, foram marcados por agitações políticas e intensas negociações sobre a criação da nação brasileira e a definição de um perfil de Estado nacional. Era preciso investir na formação de uma elite intelectual capaz de gerir a pátria recém-emancipada, instituindo-lhe uma identidade própria, em oposição à portuguesa. Mais do que novas leis, o país precisava de uma consciência jurídica, que deveria emanar de cursos estabelecidos em território nacional. Foram esses, entre outros, os argumentos que deram o tom das discussões políticas que culminaram nas duas primeiras faculdades de direito do Brasil, em agosto de 1827, em São Paulo e Recife. “A criação de escolas de direito nas regiões Sul e Norte, como se dizia à época, pretendia integrar as diferentes regiões do país, fortalecendo a unidade territorial”, explica a advogada e historiadora Ana Paula Araújo de Holanda, da Universidade de Fortaleza, Ceará.
A proposta de criação de um curso de direito foi apresentada em 1823. Tratava-se de um pedido de brasileiros matriculados na Universidade de Coimbra, em Portugal, onde a maioria dos que pretendiam seguir nas profissões jurídicas estudava. O projeto, apresentado pelo advogado Fernandes Pinheiro, foi encaminhado para debate na Assembleia, e logo iniciaram-se as divergências sobre a localização dos cursos. Os debates transcorreram de forma apaixonada. “Os parlamentares advogavam em favor de suas províncias de origem, já que desses cursos sairia a elite política do país”, comenta a advogada e historiadora Bistra Stefanova Apostolova, da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. O projeto aprovado na Assembleia Geral, no entanto, não rompeu totalmente com a tradição jurídica portuguesa. Houve desencontros entre as intenções dos parlamentares e a prática, segundo Bistra. Adotaram-se provisoriamente os Estatutos da Universidade de Coimbra.
Ambas as faculdades tornaram-se importantes polos inspiradores das artes literárias e poéticas nacionais, contribuindo para a construção da identidade nacional. As instituições também foram importantes para os principais movimentos cívicos, literários e políticos que se seguiram ao longo das décadas no país, como os que levaram à proclamação da República, em 1889, e à Abolição, um ano antes.
(Adaptado de ANDRADE, Rodrigo de Oliveira. “Para formar homens de lei”. Revista Pesquisa Fapesp, out/2017)
A criação de escolas de direito nas regiões Sul e Norte [...] pretendia integrar as diferentes regiões do país, fortalecendo a unidade territorial (1o parágrafo)
A ideia explicitada na frase acima está contemplada de forma gramaticalmente correta em:
TEXTO
É proibido achar
Chego em casa à noite, exausto. A mesa vazia. Nada sobre o fogão. Nem no forno. Nem na
geladeira. Não há jantar. Pior! Os ovos, sempre providenciais, acabaram. Sou forçado a me contentar
com um copo de leite e bolachas. No dia seguinte, revolto-me diante da empregada.
— Passei fome!
[5] — Ih! Achei que o senhor não vinha jantar!
Solto faíscas que nem um fio desencapado ao ouvir o verbo “achar” em qualquer conjugação.
É um perigo achar. Não no sentido de expressar uma opinião, mas de supor alguma coisa. Tenho
trauma, é verdade! Tudo começou aos 9 anos de idade. Durante a aula, fui até a professora e pedi:
— Posso ir ao banheiro?
[10] Ela não permitiu. Agoniado, voltei à carteira. Cruzei as pernas. Cruzei de novo. Torci os pés.
Impossível escrever ou ouvir a lição. Senti algo morno escorrendo pelas pernas. Fiz xixi nas calças!
Alguém gritou:
— Olha, ele fez xixi!
Dali a pouco toda a classe ria. E a professora, surpresa:
[15] — Ih… eu achei que você pediu para sair por malandragem!
Vítima infantil, tomei horror ao “achismo”. Aprendi: sempre que alguém “acha” alguma coisa,
“acha” errado. Meu assistente, Felippe, é mestre no assunto.
— Não botei gasolina no carro porque achei que ia dar! — explica, enquanto faço sinais na
estrada tentando carona até algum posto.
[20] Inocente não sou. Traumatizado ou não, também já achei mais do que devia. Quase peguei
pneumonia na Itália por supor que o clima estaria ameno e não levei roupa de inverno. Palmilhei
mercadinhos de cidades desconhecidas por imaginar que hotéis ofereceriam pasta de dente. Deixei de
ver filmes e peças por não comprar ingressos com antecedência ao pensar que estariam vazios. Fiquei
encharcado ao apostar que não choveria, apesar das previsões do tempo. Viajei quilômetros faminto
[25] por ter certeza de que haveria um bar ou restaurante aberto à noite em uma estrada desconhecida.
Há algum tempo vi um livro muito interessante em um antiquário. Queria comprá-lo. Como ia
passar por outras lojas, resolvi deixar para depois.
— Ninguém vai comprar esse livro justo agora! — disse a mim mesmo.
Quando voltei, fora vendido. Exemplar único.
[30] — O senhor podia ter reservado — disse o antiquário.
— É, mas eu achei…
Mas eu me esforço para não achar coisa alguma. Quem trabalha comigo não pode mais achar.
Tem de saber. Mesmo assim, vivo enfrentando surpresas. Nas relações pessoais é um inferno: encontro
pessoas que mal falavam comigo porque achavam que eu não gostava delas. Já eu não me aproximava
[35] por achar que não gostavam de mim! Acompanhei uma história melancólica.
Dois colegas de classe se encontraram trinta anos depois. Ambos com vida amorosa péssima,
casamento desfeito. Com a sinceridade que só a passagem do tempo permite, ele desabafou:
— Eu era apaixonado por você naquela época. Mas nunca me abri. Achei que você não ia querer
nada comigo. Ela suspirou, arrasada.
[40] — Eu achava você o máximo! Como nunca se aproximou, pensei que não tinha atração por
mim!
Os dois se encararam arrasados. E se tivessem namorado? Talvez a vida deles fosse diferente!
É óbvio, poderiam tentar a partir de agora. Mas o que fazer com os trinta anos passados, a bagagem de
cada um?
[45] Quando alguém me diz:
— Eu acho que…
Respondo:
— Não ache, ninguém perdeu nada.
Adianta? Coisa nenhuma! Vivo me dando mal porque alguém achou errado! Sempre que posso,
[50] insisto:
— Se não sabe, pergunte! É o lema que adotei: melhor que achar, sempre é verificar!
CARRASCO, Walcyr. Disponível em: https://vejasp.abril.com.br/cidades/cronica-proibido-achar/. Acesso em: 07 set. 2019.
Assinale a sequência que identifica CORRETAMENTE as funções dos termos destacados:
I. Chego em casa à noite, exausto.
II. Olha, ele fez xixi!
III. “... tomei horror ao ‘achismo’”
IV. “... haveria um restaurante aberto à noite...”
V. “Acompanhei uma história melancólica”
VI. “Eu achava você o máximo!”

Nas falas do personagem Armandinho, no primeiro e no segundo quadrinhos, temos a mesma justificativa para o emprego da vírgula. Qual a função sintática, presente nos dois enunciados, que caracteriza a necessidade da referida pontuação?
Cultivo itinerante na floresta tropical
[1] O cultivo de coivara é um tipo de agricultura
itinerante adotado por populações tradicionais há milênios e
hoje restrito às regiões tropicais do planeta. Atualmente, há um
[4] grande debate sobre a sustentabilidade desse sistema agrícola
e a possível contribuição para a conservação das florestas
tropicais. Este artigo caracteriza esse método de plantio e
[7] apresenta uma análise dos estudos científicos publicados nas
últimas décadas sobre o tema, além de dados sobre essa prática
em comunidades quilombolas do vale do rio Ribeiro, em São
[10] Paulo. Os resultados desses estudos, em conjunto, permitem
uma defesa da sustentabilidade do cultivo de coivara.
Walter Alves Neves; Rui Sergio Sereni Murrieta; Cristiva Adams; Alexandre Antunes Ribeiro Filho; Nelson Novaes Pedroso Júnior. In: Revista Antropologia Ecológica. Universidade de São Paulo.
Tendo como referência o texto acima, julgue o item a seguir.
Caso, no complemento nominal “às regiões tropicais do planeta” (l.3), fosse suprimido o artigo “as”, haveria alteração da informação relativa à abrangência dos locais em que remanesce o cultivo de coivara.
“Invadiu a mente de Fabiano a lembrança de que a chuva poderia demorar demais”.
O termo em destaque desempenha a função de
Faça seu login GRÁTIS
Minhas Estatísticas Completas
Estude o conteúdo com a Duda
Estude com a Duda
Selecione um conteúdo para aprender mais: