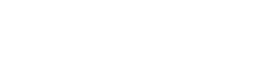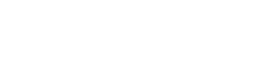Questões de Português - Gramática - Semântica
Texto
Qual é a distância entre a Terra e a Lua?
A distância entre a Terra e a Lua sofre
alterações dependendo do momento, mas já
conseguimos traçar uma média com precisão.
A Lua, nosso satélite natural, tem sido
[5] objeto de admiração e curiosidade desde tempos
imemoriais. Com sua beleza misteriosa e influência
nas marés, é natural que nos perguntemos: qual é a
distância exata entre a Terra e a Lua? Ao longo do
tempo, conseguimos medir de maneira muito
[10] precisa a distância até o nosso satélite natural que,
por incrível que pareça, pode variar conforme a
situação. Ficou curioso? A gente te explica.
A distância entre a Terra e a Lua
A distância entre a Terra e a Lua é a medida
[15] que separa nossos dois corpos celestes durante sua
órbita. Essa distância não é estática, mas sim
variável, devido às características das órbitas
elípticas de ambos os corpos, logo, a distância pode
acabar sendo maior ou menor a depender do ponto
[20] de medição. Em média, a distância é de
aproximadamente 384.400 quilômetros. Essa
medida tem sido determinada por meio de
tecnologias avançadas, como laser e radar, que
permitem medições precisas ao longo do tempo.
[25] Como a distância é medida?
A medição precisa da distância entre a Terra
e a Lua é um feito impressionante da ciência
moderna. Uma das técnicas mais utilizadas é a
reflexão a laser. Astrônomos enviam feixes de laser
[30] de alta potência para espelhos refletores deixados na
superfície lunar pelas missões Apollo, por exemplo.
Ao calcular o tempo que o laser leva para retornar,
os cientistas podem determinar a distância com
incrível precisão.
[35] Outra técnica envolve o uso de sinais de
radar. Grandes antenas transmitem sinais de rádio
em direção à Lua, e esses sinais são refletidos de
volta à Terra. Novamente, o tempo levado para o
sinal retornar é utilizado para calcular a distância.
[40] As medições são realizadas repetidamente
ao longo do tempo para levar em conta as flutuações
nas órbitas. Esses métodos altamente sofisticados
garantem a obtenção de dados precisos para melhor
compreender a relação entre a Terra e a Lua.
[45] O que influencia a distância entre a Terra e a Lua?
Embora a distância média entre a Terra e a
Lua seja de cerca de 384.400 quilômetros, essa
medida não é constante. Existem fatores que afetam
essa distância e podem levá-la a variar ao longo do
[50] tempo. Um dos principais fatores é a órbita elíptica
da Lua ao redor da Terra. As órbitas elípticas são
ovaladas e não círculos perfeitos, o que significa que
a Lua não está sempre à mesma distância da Terra.
Durante o perigeu, que é o ponto mais próximo da
[55] Terra, a Lua pode estar a aproximadamente 363.300
quilômetros. Já no apogeu, que é o ponto mais
distante, a distância pode aumentar para cerca de
405.500 quilômetros. Essas variações ocorrem em
ciclos de aproximadamente 27 dias, período
[60] conhecido como mês lunar.
Significado da distância entre a Terra e a Lua
A distância entre a Terra e a Lua tem
implicações significativas para a ciência e para a vida
na Terra. O estudo dessa distância ajuda a
[65] compreender a evolução das órbitas celestes e a
história do nosso sistema solar. Além disso, o
conhecimento preciso dessa relação é fundamental
para o planejamento de missões espaciais tripuladas
e não tripuladas. As marés oceânicas são um
[70] exemplo prático e impactante do significado dessa
distância. A atração gravitacional da Lua causa as
marés, que desempenham um papel vital na
estabilidade ecológica das zonas costeiras, bem
como na circulação dos oceanos, afetando o clima
[75] global.
Em resumo, a distância entre a Terra e a Lua
é uma fascinante e complexa relação cósmica. Com a
ajuda de tecnologias avançadas, os cientistas têm
sido capazes de medir e compreender essa distância
[80] com notável precisão. Esse conhecimento é vital
para nossa compreensão do universo, das marés e
das possibilidades futuras da exploração espacial. A
Lua, nossa vizinha cósmica, continua a nos
surpreender e a inspirar nossa curiosidade sobre o
[85] vasto cosmos.
(OLIVEIRA, Danilo. Qual é a distância entre a Terra e a Lua? In: Olhar Digital – Ciência e Espaço. Disponível em https://olhardigital.com.br/2023/08/07/ Texto adaptado.)
Outro elemento que tem o mesmo valor semântico do termo destacado no trecho: “Essa distância não é estática, mas sim variável,” (linhas 16-17) é
Leia um trecho de um artigo do historiador Luís Costa sobre Darcy Ribeiro, antropólogo, ex-ministro da educação no ano de 1963, para responder à questão.
Darcy Ribeiro orgulhava-se de seus fracassos – e, na sua própria conta, não foram poucos. Não salvou os indígenas, não escolarizou as crianças pobres, não fez a reforma agrária.
A utopia darcyniana projetou um Brasil em que os povos originários teriam direito à terra e à preservação de seus modos de existência, em que todos os brasileiros teriam acesso à escola e à civilização letrada.
Seu legado – seus fazimentos e sua produção teórica – continua como exemplo arquetípico de quem pensa e insiste em fazer do Brasil um país possível.
Revista Cult, nº 286, ano 25, outubro de 2022. (Adaptado).
O autor fala da “utopia darcyniana”. A palavra utopia, no contexto, corresponde a
O texto a seguir é referência para a questão.
ChatGPT: tecnologia, limitações e impactos
Virgilio Almeida, Ricardo Fabrino Mendonça e Fernando Filgueiras
Projetado para simular conversação humana, em resposta a solicitações ou perguntas, o ChatGPT gera conteúdos sintéticos
aparentemente convincentes, mas que podem estar incorretos. Assim, é preciso conhecer o alcance dos impactos sociais e políticos que
a nova tecnologia reserva e criar uma regulamentação que permita proteger a sociedade de possíveis consequências adversas.
O desenvolvimento de Inteligências Artificiais (IAs) baseadas em aprendizado de máquina (machine learning) já ocorre há algumas
[5] décadas. Quando o cientista da computação alemão Joseph Weizenbaum (1923-2008) criou, entre 1964 e 1966, o algoritmo Eliza,
contribuiu com aspectos teóricos para o processamento de linguagem natural e construiu a percepção sobre os impactos dessas
tecnologias na sociedade. Ao ver sua secretária no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, fazer confidências
para Eliza, mesmo sabendo que se tratava de um programa de computador, Weizenbaum percebeu o poder dessa tecnologia.
A interação entre humanos e máquinas inteligentes implica relações de poder e enquadramento da ação humana na sociedade.
[10] Weizenbaum dedicou-se a discutir o poder político e social dessas tecnologias, apontando que, em alguns casos discutíveis, caberia
à sociedade estabelecer o controle daquilo que deveria ou não ser levado adiante.
Em novembro de 2022, a empresa de pesquisa em inteligência artificial sem fins lucrativos OpenAI anunciou sua nova ferramenta
de processamento de linguagem natural, o ChatGPT, um chatbot projetado para simular conversação humana, em resposta a
solicitações ou perguntas. ChatGPT é um modelo grande de linguagem (Large Language Model – LLM), com 175 bilhões de
[15] parâmetros, treinado em uma imensa base de dados, capaz de aprender de forma autônoma e produzir textos sofisticados,
aparentemente inteligentes. Os parâmetros são chave para os algoritmos de aprendizado de máquina, pois representam aquilo que
é aprendido pelo modelo com os dados de treinamento.
Esses modelos são treinados para corresponder à distribuição de conteúdo gerado por humanos, com resultados que mostram, em
muitos casos, a incapacidade dos humanos de distinguir os conteúdos sintéticos produzidos por máquinas. Embora os conteúdos
[20] sintéticos, como textos, artigos ou mesmo imagens, pareçam convincentes, é importante enfatizar que são criações fictícias dos
algoritmos que podem estar incorretos factualmente. Apesar dos avanços recentes dos modelos de linguagem, existem sérias
limitações que precisam ser analisadas.
Disponível em: https://cienciahoje.org.br/artigo/chatgpt-tecnologia-limitacoes-e-impactos/. Adaptado.
A expressão “adversas”, destacada na linha 3, pode ser substituída sem prejuízo de sentido por:
TEXTO
Dez anos da Lei das Cotas
Rosane Garcia postado em 08/07/2022 | 06:00
A Lei das Cotas (nº 12.711/2012), que reserva 50% das vagas em universidade e institutos federais para negros, completará uma década em 28 de agosto próximo. Ao longo desses 10 anos, ela se tornou mais inclusiva, ao abrir espaço para indígenas e estudantes da rede pública, segmentos da sociedade que, como os negros, foram, historicamente, segregados pelo Estado, pautado pelo racismo estrutural e ambiental, base orientadora da formulação de políticas públicas excludentes.
Vista como uma reparação por danos provocados aos negros, após mais de 300 anos de escravidão, o novo marco legal esbarrou na reação dos abomináveis racistas e escravagistas contemporâneos, indignados com a conquista do movimento negro, que completou 40 anos neste 2022. Congressistas foram ao Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar a nova lei.
Entre os argumentos, havia a alegação de que a regra privilegia pretos e pardos em detrimento dos direitos dos brancos, tornando desigual a disputa por uma vaga nas universidades. É puro deboche falar em desigualdade, quando todas as ações do poder público e setor privado sempre mortificaram o artigo da Constituição anterior a de 1988, em que todos "são iguais perante as leis". Escárnio.
Um discurso ridículo, ante os mais de 300 anos de escravidão, tortura e assassinatos de homens, mulheres e crianças sequestrados em terras africanas. Um crime de lesa-humanidade nunca reparado pelo Estado brasileiro. Pelo contrário. Ter muitos escravos e ser dono de grandes extensões de terra — latifúndios — representavam o poder político do explorador. Hoje, a eliminação de negros ainda é fato corriqueiro, protagonizado por integrantes de forças de segurança pública em investidas nas periferias dos centros urbanos.
Em uma década, a Lei das Cotas mudou o perfil das universidades brasileiras. Nesse período, o número de alunos negros cresceu em torno de 400%. Hoje, eles somam mais de 38% dos estudantes, embora o povo preto seja 56% da população brasileira.
O movimento pela diversidade tem mexido com as organizações privadas. Hoje, grandes corporações do setor privado com compromisso social, nos mais diferentes ramos de atividade, criam programas para que profissionais negros ocupem cargos de chefia ou de coordenação dentro das empresas. Uma mudança importante no comportamento do empresariado, cujo olhar passa a enxergar a pluralidade étnica e, também, de gêneros no país.
Mesmo com todos os efeitos positivos, a Lei das Cotas tem sido rechaçada por grupos conservadores e neonazistas, inconformados com a presença dos negros nas universidades ou em postos de mando em algumas empresas. Esses segmentos têm representantes no Congresso e incitam os parlamentares a não revalidarem a Lei das Cotas. As eleições de novembro podem ser um escudo, para evitar o estilhaçamento da legislação. Mas, considerando-se a atual composição do parlamento, é preciso ficar atento, pois o compromisso da maioria não tem sido, em hipótese alguma, com a sociedade. E, menos ainda, com os afrobrasileiros.
Texto adaptado para fins pedagógicos. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2022/07/5020827- artigo-dez-anos-da-lei-das-cotas.html. Acesso em: 28 ago. 2022
Entre os argumentos, havia a alegação de que (1) a regra privilegia pretos e pardos em detrimento dos direitos dos brancos, tornando desigual a disputa por uma vaga nas universidades. É puro deboche falar em desigualdade, quando todas as ações do poder público e setor privado sempre mortificaram o artigo da Constituição anterior a de 1988, em que (2) todos (3) "são iguais perante as leis" (3). Escárnio (4).
No trecho, mantendo seu sentido original, a palavra ESCÁRNIO (4) pode ser substituída por
Leia o texto de Jared Diamond para responder à questão.
Todos nós sabemos que a história avançou de modo muito diferente para os povos de cada parte do globo. Nos 13000 anos que se passaram desde o fim da última Era Glacial, algumas partes do mundo desenvolveram sociedades industriais e letradas, que usavam utensílios de metal, enquanto outras produziram apenas sociedades agrícolas analfabetas e ainda outras se mantiveram caçadoras-coletoras de alimentos, usando artefatos feitos com pedras. Essas desigualdades projetaram grandes sombras sobre o mundo moderno, uma vez que as sociedades letradas que possuíam utensílios de metal conquistaram ou exterminaram as outras sociedades. Embora essas diferenças representem os fatos mais elementares da história mundial, suas causas continuam incertas e controvertidas.
(Armas, germes e aço, 2013.)
Na frase “Embora essas diferenças representem os fatos mais elementares da história mundial, suas causas continuam incertas e controvertidas”, o termo sublinhado equivale a:
Sentido próprio, ou denotativo, é o sentido literal, aquele que se costuma atribuir a uma palavra.
Sentido figurado, ou conotativo, é um sentido derivado, simbólico, que pode ser atribuído a uma palavra em determinado contexto.
Está empregado em sentido figurado o termo sublinhado em:
Faça seu login GRÁTIS
Minhas Estatísticas Completas
Estude o conteúdo com a Duda
Estude com a Duda
Selecione um conteúdo para aprender mais: